Utensílios com Vida Própria
por Richard Heinberg [*]
1.Novembro.2005
Quase toda a gente se queixa de vez em quando que as nossas ferramentas passaram a ser Aprendizes de Feiticeiros; que acabámos por estar ao serviço das nossas máquinas em vez de ser o contrário; e que a nossa vida está cada vez mais organizada como se nós próprios fôssemos meras engrenagens dum grande mecanismo completamente fora do nosso controlo.

Não somos os primeiros a sentir isto: a crítica à tecnologia já tem passado. Os ‘luditas’ [1] da Inglaterra dos princípios do século XIX foram dos primeiros a levantar a voz – e martelos! – contra os efeitos desumanizadores da mecanização. À medida que a industrialização avançada, década após década – dos teares mecânicos até às pás a vapor, aos aviões a jacto e às escovas de dentes eléctricas – as objecções à adopção acelerada e insensata de novas tecnologias tornaram-se mais eruditas. No século passado, os livros de Lewis Mumford, Jacques Ellul, Ivan Illich, Kirkpatrick Sale, Stephanie Mills, Chellis Glendinning, Jerry Mander, John Zerzan, e Derrick Jensen, entre outros, ajudaram gerações de leitores a entender o como e o porquê de as nossas ferramentas terem acabado por nos escravizar, colonizando os nossos espíritos e as nossas rotinas diárias.

Estes autores chamaram-nos a atenção para que essas ferramentas, longe de serem moralmente neutras, são amplificadoras dos objectivos humanos; daí que cada ferramenta contenha em si mesma a inerente intenção primitiva do seu inventor. Podemos utilizar um revólver para pregar pregos, mas ele funciona melhor como uma máquina para a missão imediata de causar danos físicos; e quanto mais revólveres houver, mais provável se torna que os conflitos pessoais diários se resolvam inevitavelmente a tiro. Assim, tal como os conflitos dos objectivos humanos constituem o cerne das discussões éticas e políticas, também a tecnologia em si mesma, à medida que se desenvolve, se torna inevitavelmente no sujeito duma ampla exibição das controvérsias sociais. As batalhas sobre a tecnologia dizem respeito a nada menos do que à forma e ao futuro da sociedade.

Em princípio, estas batalhas – se não as discussões académicas em torno delas – percorrem todo o caminho desde a idade neolítica, desde o tempo em que dominámos o fogo há dezenas de milhares de anos. Mumford escreveu um parágrafo completo realçando como as modernas megatecnologias são exteriorizações duma máquina social que teve origem nos estados primitivos da Idade do Bronze:
“Os inventores das bombas nucleares, mísseis espaciais e computadores são os construtores em pirâmide da nossa época: inchados psicologicamente por um tal mito de poder absoluto, ostentando através da ciência a sua crescente omnipotência, ou mesmo omnisciência, motivados por obsessões e compulsões não menos irracionais do que as dos antigos sistemas absolutos: principalmente a noção de que o próprio sistema tem que se expandir, qualquer que seja o seu preço”. (citado em Questioning Technology, publicado por Zerzan e Carnes).
Zerzan vai mais longe, afirmando que os homens têm tendência para abstrair e manipular, o que está no centro da nossa capacidade de fabricar utensílios, e que nos isola das nossas relações inatas com o mundo natural e, por isso, ofuscam a nossa própria natureza.
É certamente útil esta tentativa de mostrar que a actual crise tecnológica tem origem em antigos padrões. Mas também é importante ter em mente o facto de que a discussão sobre os danos colaterais da mecanização intensificou-se relativamente nos últimos tempos, devido ao facto de que a escala da introdução da tecnologia nas nossas vidas e o seu preço sobre o ambiente cresceu enormemente só nos dois séculos passados.
Alguns tecno-críticos tentaram explicar esta recente explosão do poder e da variedade dos nossos utensílios relacionando-a com os progressos na filosofia (dualismo cartesiano) ou na economia (capitalismo). Estranhamente, poucos são os críticos que discutem com alguma profundidade o papel dos combustíveis fósseis na revolução industrial. Ou seja, concentram normalmente a sua atenção nos impactos dos utensílios na sociedade e na natureza, e nas condições políticas e nas ideologias que permitiram a sua adopção, mais do que no facto de que a maioria dos novos utensílios que apareceram ao longo dos dois séculos passados são dum tipo anteriormente raro – as que vão buscar a energia para o seu funcionamento não à energia muscular, mas à queima de combustíveis.
Mumford, um dos meus autores favoritos, dedicou apenas um comentário ao carvão numa das 700 páginas da sua obra-prima em dois volumes, The Myth of the Machine, e no índice de qualquer dos volumes nada aparece sobre o “petróleo”. O meu próprio livro de 1996, A New Covenant with Nature, que era dedicado na sua maior parte a uma crítica ao industrialismo, não está melhor: “carvão”, “petróleo” e “energia” estão ausentes do seu índice.

E contudo parece-me agora que, para avaliar a tecnologia e compreender os seus efeitos sobre as pessoas e a natureza, é pelo menos tão importante prestar atenção à energia que move as ferramentas como às próprias ferramentas e à matriz político-ideológica envolvente. Em resumo, nós que temos vindo a criticar a sociedade tecnológica, utilizando os métodos da análise histórica, ignorámos pelo menos metade da história que estamos a tentar tecer, quando ignorámos a evolução energética das ferramentas.
Este artigo é uma breve tentativa de compensar este descuido. Também tenta analisar porque é que o pico iminente da produção global do petróleo fará saltar a rolha do tipo de “progresso” que nos habituámos a esperar nos dois séculos passados, fornecendo uma oportunidade histórica para reformular as relações da humanidade com a tecnologia e a sua natureza.
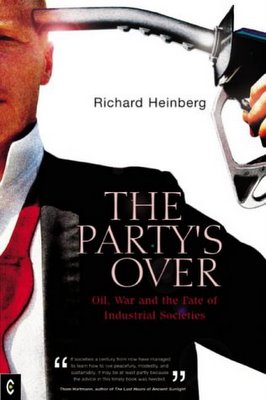
Classificação dos Utensílios
Convém, para os nossos objectivos, ter uma forma de classificação dos utensílios conforme as suas fontes de energia. As seguintes quatro categorias, realçadas no meu livro The Party's Over, correspondem grosso modo às quatro principais épocas da evolução social:
Classe A. Utensílios que exigem apenas energia humana para a sua manufactura e utilização. Como exemplo, incluem-se as pontas de lança e pontas de flechas de pedra, utensílios para moer, cestos e vestuário de peles de animais. Encontramos este tipo de utensílios nas sociedades recolectoras-caçadoras.
Classe B. Utensílios que exigem uma fonte de energia externa para o seu fabrico, mas apenas energia humana para a sua utilização. Exemplos: todos os utensílios básicos de metal, tais como facas, armaduras de metal e moedas. Estes utensílios foram a base das primeiras civilizações agrícolas com centro na Mesopotâmia, China, Egipto e Roma.
Classe C. Utensílios que exigem apenas energia humana para o seu fabrico, mas captam uma fonte de energia externa. Exemplos: o arado de madeira puxado por animais de carga, a utilização do fogo, o barco à vela, o moinho de vento e o moinho de água. A utilização do fogo foi feita pelos caçadores-recolectores, e o arado de madeira e o barco à vela desenvolveram-se nas primeiras sociedades agrícolas; o moinho de vento e o moinho de água apareceram em estádios mais avançados da evolução social.
Classe D. Utensílios que precisam de uma fonte de energia externa para o seu fabrico e também captam ou utilizam uma fonte de energia externa. Exemplos: o arado de aço, a espingarda, a máquina a vapor, o motor de combustão interna, o motor a jacto, o reactor nuclear, a turbina hidroeléctrica, o painel fotovoltaico, a turbina eólica e todos os equipamentos eléctricos. Estes instrumentos e sistemas de instrumentos são o fundamento das sociedades industriais modernas; na verdade, definem-nas.
Durante milhares de anos, os seres humanos empenharam-se numa luta constante para dominar energia extra-somática (ou seja, fontes de energia exteriores ao corpo humano). Até há pouco tempo, essa energia provinha essencialmete da utilização do trabalho desempenhado pelos músculos de animais. Nos EU, ainda em 1850, os animais domésticos – cavalos, bois, e mulas – representavam cerca de 65 por cento do trabalho físico que sustentava a economia; hoje essa percentagem é insignificante: praticamente todo o trabalho é feito por máquinas alimentadas por combustível. A escravatura foi uma estratégia para o domínio da energia muscular humana, e o fim da escravatura mais visível durante o século XIX foi mais ou menos inevitável quando os instrumentos da classe D se tornaram mais baratos do que possuir e manter escravos humanos – ou animais domésticos, com esse objectivo.
Nas civilizações primitivas, os trabalhadores agrícolas tentavam captar mais energia solar numa base anual de arar a terra e colher. É sempre necessário gastar energia para produzir energia (é necessário esforço para lançar a semente, construir um moinho de vento ou perfurar um poço de petróleo). Para as sociedades agrícolas, o lucro líquido em energia era sempre moderado e por vezes nem existia (daí as fomes recorrentes): na maior parte dos casos cerca de noventa por cento da população tinha que trabalhar na agricultura para fornecer o excedente necessário para sustentar o resto do edifício social – incluindo os guerreiros, o clero e as classes administrativas. A extracção do carvão, e principalmente do petróleo e do gás natural – substâncias que representam milhões de anos de acumulação de energia biótica antiga – proporcionou frequentemente um espectacular lucro líquido de energia, por vezes da ordem das 50 ou 100 unidades obtidas por cada unidade investida. Em consequência disso, com os combustíveis fósseis e a maquinaria moderna, bastam dois por cento de população na agricultura para sustentar o resto da sociedade, permitindo a prosperidade duma crescente classe média composta por uma quantidade louca de especialistas.
A crescente especialização também foi favorecida pelo florescimento de diversos tipos de máquinas, e essa diversidade foi por seu turno alimentada pela disponibilidade de energia barata para o seu funcionamento. A produtividade do trabalho manual aumentou sem parar, não porque as pessoas trabalhassem mais tempo ou mais arduamente, mas porque tinham acesso a um número cada vez maior de poderosos utensílios alimentados extra-somaticamente.
A disponibilidade dos utensílios da Classe D provocou excitação e assombro – inicialmente entre as poucas pessoas suficientemente abastadas para as possuir, e também entre os astutos e altamente motivados inventores disponíveis para serem contratados. Eram utensílios que, em certo sentido, tinham vida própria: consumiam um certo tipo de alimento, sob a forma de carvão ou petróleo (mesmo indirectamente, no caso da electricidade) e tinham o seu próprio metabolismo interior. Gradualmente, à medida que a produção mecanizada se mostrou capaz de produzir bens e artigos em maior quantidade do que as elites ricas eram capazes de absorver, estas traçaram uma estratégia para criar uma sociedade de consumo em que todos pudessem possuir maquinaria que poupasse trabalho. O cidadão comum foi rapidamente conquistado pelo sonho de eliminar o trabalho pesado. E, dada a escala das energias que se poupavam, a realização desse sonho parecia estar facilmente ao seu alcance.
Essa escala é difícil de compreender sem o recurso a exemplos familiares. Pensem por momentos no esforço necessário para empurrar – mesmo só alguns metros – um carro que ficou sem gasolina. Agora imaginem ter que empurrá-lo durante 30 quilómetros. Esta distância, claro, é o serviço prestado por um único galão (3,8 litros) de gasolina, e representa a energia equivalente a pelo menos um mês de trabalho humano (muito mais do que isso segundo alguns pensam). O total dos combustíveis gasolina, diesel e petróleo utilizados nos EU num só dia aproximam-se do equivalente energético do trabalho de 20 milhões de pessoas/ano. Se a construção da Grande Pirâmide exigiu o trabalho de 10 000 pessoas durante vinte anos, então a energia baseada no petróleo utilizada nos EU numa média diária poderia – em princípio, conforme a pedra disponível e a maquinaria – construir 100 Grandes Pirâmides. Evidentemente, não utilizamos o petróleo para este fim: em vez disso, utilizamo-lo na sua maior parte, para fazer andar milhões de carros metálicos pesados ao longo das estradas a fim de podermos ir e vir do trabalho, dos restaurantes e das lojas de aluguer de vídeos.

Com os computadores e os sistemas cibernéticos, conseguimos criar instrumentos não só com vida própria, mas com uma mente própria. Agora os nossos utensílios não só “respiram”, “comem” e fazem trabalho físico, mas também “pensam”. Cada vez mais nos encontramos em ambientes sintéticos, auto-reguladores (ou mesmo auto-replicadores) – centros comerciais, aeroportos, edifícios de escritórios – onde estão presentes a fauna e flora não humana multicelular apenas como ornamentos; onde o trabalho humano consiste apenas em fazer algumas tarefas que ainda não conseguimos substituir pela invenção de autómatos rentáveis. O milagre de termos eliminado o trabalho pesado é acompanhado pelo aborrecimento de sermos dirigidos e dominados pelas máquinas, e de ficarmos indefesos perante falhas mecânicas ou – horror dos horrores – perante falhas de energia.
E o que é preciso para tudo isto? São precisos 84 milhões de barris de petróleo por dia, globalmente, assim como milhões de toneladas de carvão e milhões de metros cúbicos de gás natural. A rede de fornecimento destes combustíveis cobre o globo e é impressionante. No entanto, do ponto de vista do utilizador final, esta rede é praticamente invisível e considerada natural. Accionamos o interruptor, enchemos o depósito com gasolina, ou ligamos o termostato sem pensar nos processos de extracção que estão por detrás, ou nos horrores ambientais que representam.

As próprias máquinas tornaram-se tão sofisticadas, os seus serviços tão sedutores, que se equiparam à magia. Poucas pessoas compreendem totalmente o funcionamento interno de qualquer instrumento da Classe D, e os diversos instrumentos exigem as suas próprias equipas de especialistas para o seu desenho e a sua reparação. Mas o que é mais importante, no processo de nos tornarmos dependentes deles, é que quase nos transformámos numa espécie diferente dos nossos antepassados recentes.
Questões de Infra-estrutura
Para compreender como é que nos tornámos tão diferentes, quão diferentes nos tornámos, e também como é que o acabar da energia extra-somática barata nos irá provavelmente afectar, e à sociedade em que vivemos, será útil ir buscar outra lição à antropologia cultural.
Estudos comparativos das sociedades humanas têm mostrado consistentemente que estas últimas são mais bem classificadas quanto aos meios de obtenção de alimentos dos seus membros. Assim, falamos vulgarmente de sociedades caçadoras-recolectoras, sociedades hortícolas, sociedades agrícolas, sociedades piscatórias, sociedades pastorícias e sociedades industriais. A questão é, se soubermos como é que as pessoas obtêm os seus alimentos, ficaremos certamente aptos a predizer a maior parte das suas restantes formas sociais – os costumes de tomada de decisões e de educação infantil, as práticas espirituais e por aí fora.
Evidentemente, dum ponto de vista biológico, comida é energia. Assim o que queremos dizer é que é essencial compreender as fontes de energia para compreender as sociedades humanas.
O antropólogo Marvin Harris identificou três elementos básicos presentes em toda a sociedade humana:
* infra-estrutura (que consiste nos meios de obter e produzir a energia necessária e os materiais, a partir da natureza – ou seja, os meios de produção);
* estrutura (que consiste na tomada de decisões entre os homens e na actividade de repartição dos recursos)
* super-estrutura (que consiste nas ideias, rituais, éticas e mitos que servem para explicar o universo e coordenar o comportamento humano)
As alterações em cada um destes níveis podem afectar os outros: o aparecimento duma nova religião ou duma revolução política, por exemplo, pode mudar a vida das pessoas de forma real e significativa. No entanto, o facto de que tantas formas culturais pareçam agrupar-se consistentemente em torno da forma de obter os alimentos, sugere que a mudança cultural fundamental ocorre a nível da infra-estrutura: se as pessoas mudam, por exemplo, da caça para o plantio, ou do plantio para a pastorícia, a sua política e espiritualidade também acabam por mudar e provavelmente de forma profunda.
A revolução industrial representou uma das mudanças infra-estruturais fundamentais da história; tudo o resto na sociedade humana mudou em resultado disso. Esta revolução não resultou principalmente de alterações religiosas ou políticas, mas dalgumas invenções anteriores (aço, engrenagens, e uma primitiva máquina a vapor – ou seja, instrumentos da Classe B e C e instrumentos simples da Classe D) que se juntaram em presença de uma abundante fonte de nova energia: os combustíveis fósseis – primeiro o carvão, depois o petróleo e o gás natural. As ideias (tais como o dualismo cartesiano, o capitalismo, o calvinismo e o marxismo), mais do que impulsionarem a transformação, adquiriram relevância porque desempenharam funções úteis dentro dum fluxo de acontecimentos que emanaram da necessidade da infra-estrutura.
Quais as Consequências da Utilização dos Hidrocarbonetos?
Quais foram os impactos estruturais e super-estruturais do industrialismo?
Como só é necessária uma reduzida porção da população a trabalhar no campo (agora com tractores e ceifeiras em vez de bois) para produzir alimentos-energia, uma grande parte do povo perdeu a ligação directa com o campo e com os ciclos da natureza. Enquanto que os caçadores obtêm o seu alimento-energia da caça, nós obtemos o nosso nas compras do supermercado.
O subsequente desenvolvimento, primeiro no trabalho fabril, e depois nas ocupações especializadas, levou à implantação da educação pública obrigatória universal e à ideia de “emprego” – uma noção que muita gente hoje aceita como certa, mas que parece estranha, humilhante e limitada para pessoas de culturas não industriais.
Com a expansão da classe média instruída, as simples formas monárquicas de governo deixaram rapidamente de ser defensáveis. Na parte final do século XVIII, desenvolveu-se uma forte tendência, dentro dos países industriais, para a revolução e para uma ampla e crescente expectativa de participação democrática na governação – embora evidentemente essa expectativa tenha sido rapidamente suprimida pelas novas elites mercantis. Um pouco mais tarde, a exploração económica do trabalho, típica tanto nas civilizações agrícolas anteriores como nos novos estados industriais tornou-se também o alvo da revolução; mais uma vez, o efeito da revolução foi basicamente um rearranjo de cadeirões: o trabalho diário real e a vida psíquica do povo continuaram a ser moldados pelas máquinas e, a um nível mais profundo, pelas fontes de energia que as punham em funcionamento.
Não podemos esquecer que o industrialismo veio na sequência do controlo europeu dos recursos e do trabalho da maior parte do resto do mundo durante séculos de conquista e de colonialismo. Assim a experiência e a expectativa do crescimento económico já se tinha introduzido no espírito dos membros da classe mercantil europeia antes da chegada do industrialismo. Depois do início da revolução dos combustíveis, com muitíssimo mais energia disponível per capita, a actividade económica atingiu um crescimento logarítmico aparentemente perpétuo, e surgiram teorias económicas não só para explicar esse crescimento em termos de “mercados”, mas para afirmar que, agora, por causa dos mercados, o crescimento era necessário, inevitável e infindável: o mundo sem fim, amen. Uma banca de reservas mínimas, baseada no milagre dos juros acumulados, serviu de personificação prática dessas novas expectativas. Com efeito, dentro do espírito dos gestores da sociedade e dos políticos, a fé na tecnologia e nos mercados suplantaram a fé religiosa de antigamente nas divindades visionárias agrícolas e pastorícias que presidiam sobre a civilização ocidental dos milénios anteriores.
No princípio do século XX, quando a produção mecanizada cresceu rapidamente suplantando a procura existente (entre pessoas que ainda viviam na sua maioria de forma rural e bastante auto-suficientemente) de produtos manufacturados, as elites começaram a experiência da propaganda de massas sob a forma de anúncios e relações públicas. Posteriormente, a televisão iria aumentar dramaticamente a eficácia destes esforços, que se elevaram a nada menos do que à arregimentação da imaginação humana de acordo com as exigências do sistema do capitalismo industrial.
Como as mulheres eram agora necessárias quer como consumidoras quer como operárias a fim de continuar a expansão perpétua deste sistema, apareceu como inevitável subproduto o feminismo (pela via da destruição do antigo papel doméstico e pela promoção de novas ambições e gostos consumistas).
Em resumo, tal como previmos com base na teoria do determinismo da infra-estrutura, quando os combustíveis fósseis alteraram profundamente os meios de a humanidade obter o sustento a partir da terra, tudo mudou na sociedade humana – desde a educação infantil até à política; desde os mitos culturais até aos sonhos pessoais.
Claro que muitas – embora não todas – destas mudanças foram destrutivas das pessoas e da natureza. E assim, enquanto a maioria das lutas políticas do século XX se centraram em questões de distribuição do poder e da riqueza (como foi o caso desde que os primeiros excedentes agrícolas foram postos de lado há dez mil anos), muitas dessas lutas também nasceram das tentativas de controlar os impactos cáusticos da tecnologia, os quais os críticos sociais relacionavam tanto com os próprios instrumentos como com as atitudes das pessoas para com eles. Os políticos tecnológicos concentraram-se numa gama de problemas: armas nucleares e energia nuclear, químicos poluentes, clorofluorcarbonetos destruidores do ozono, gases com efeitos de estufa, e engenharia genética dos alimentos, para dar apenas alguns exemplos familiares
Entretanto, os mais radicais dos tecno-críticos foram buscar inspiração à tendência para o relativismo cultural que convenceu os antropólogos dos meados do século XX, tais como Stanley Diamond, que manifestou profunda admiração pelos caçadores-recolectores que ainda restam no mundo. Para o filósofo anarco-primitivista John Zerzan, toda a tecnologia é prejudicial, perversa, destrutiva, e degradante, e só um regresso à nossa condição primitiva, pré-linguística, pré-técnica nos permitirá recuperar inteiramente a nossa liberdade e espontaneidade inatas.
Mas todos os tecno-críticos, do mais brando ao mais radical, tendem a aceitar que, de há décadas a esta parte, a não haver uma intervenção, a humanidade continuará uma trajectória permanente de transformação tecnológica: a única coisa que pode travar este “progresso” em curso será o despertar duma nova sensibilidade moral que leve os humanos a rejeitar a tecnologia, no seu todo ou em parte.
O Pico Petrolífero e os Limites da Tecnologia
Com o discurso do Pico Petrolífero, que começou principalmente no princípio do novo milénio, a energia passou a ser o centro das atenções enquanto factor determinante na evolução social, pelo menos tão importante como a tecnologia per se, ou as ideias, ou as lutas políticas. E com esta viragem, também apareceu o sentimento de que são os limites dos recursos que provavelmente acabarão por desencadear uma mudança cultural profunda, mais do que a persuasão moral, o esclarecimento das massas, ou qualquer nova invenção.
À medida que sobem os preços do petróleo e do gás, assinalando o início do período do pico, continuamos a assistir ao anúncio de novas invenções sob a forma do último iPod, da próxima geração de bombas nucleares, de instrumentos aperfeiçoados de vigilância, e por aí fora. No entanto, também há indícios de que essa corrente de novas invenções, tal como a corrente global do petróleo, está a começar a secar.
O físico Jonathan Huebner do Centro de Defesa Aeronaval do Pentágono em China Lake, na Califórnia, tem vindo a estudar há vários anos a marcha da mudança e invenção tecnológicas, como vem catalogado na publicação The History of Science and Technology. Depois de aplicar umas matemáticas elaboradas, chegou à conclusão que o ritmo de invenções de instrumentos significativamente novos e diferentes atingiu o seu pico em 1873 e tem vindo a diminuir gradualmente desde então. Huebner calcula o actual ritmo de inovação em sete inovações tecnologicamente importantes por cada mil milhões de pessoas por ano – o que é sensivelmente o mesmo ritmo que existia na Europa em 1600. Se esta tendência continuar, em 2024 o ritmo de inovações estará reduzido ao da Idade das Trevas.
Supondo que Huebner tem razão, a adopção dos combustíveis fósseis no século XIX teria provocado uma curva de pico precoce das invenções, que se encontram actualmente na curva descendente. Como os combustíveis fósseis vão igualmente atingir o pico e entrar em queda, provavelmente não voltaremos a ver outra explosão de tipo semelhante ou de semelhante grau de inovação; pelo contrário, assistiremos a uma adaptação a um ambiente cultural de menor quantidade de energia. E essa adaptação pode ocorrer por intermédio de versões de padrões culturais mais antigos que emanaram das respostas de gerações anteriores a níveis semelhantes de energia disponível.
O Pico Petrolífero será uma fronteira cultural fundamental, pelo menos tão importante como a revolução industrial ou o desenvolvimento da agricultura. No entanto, poucos comentadores predominantes vêem as coisas deste modo. Discutem a probabilidade dos picos dos preços da energia e tentam quantificar os prejuízos económicos que resultarão desse facto. A solução é sempre a tecnologia: a solar ou a eólica e talvez um pouco de hidrogénio para os idealistas pintados de verde; a nuclear, as areias betuminosas, os hidratos de metano, e os carvões liquefeitos para os cabeças duras, economistas e engenheiros pró-crescimento; os geradores magnéticos Tesla sem consumo de energia para os ingénuos residentes marginais.
Mas a tecnologia não pode solucionar o dilema de base que enfrentamos em resultado da nossa aplicação de combustíveis fósseis a todos os problemas ou desejos humanos: a nossa população está a aumentar, estamos a destruir o habitat (e a pôr em perigo a estabilidade climática global), e estamos a delapidar recursos duma forma e a um ritmo que não podem ser minimizados por nenhuma nova ferramenta ou fonte de energia. A única forma possível que não acabe na extinção da humanidade e de milhões de outras espécies é o abandono de todo o projecto humano – tanto em termos de números humanos como de ritmos de consumo per-capita.
E é exactamente isso o que o Pico Petrolífero significa.
Quão dramático será o recuo de que estamos a falar? Ninguém sabe. Depende em grande medida da forma como gerirmos o inevitável colapso dos sistemas financeiros e de governação, e se os países de todo o mundo podem ser persuadidos a adoptar um Procolo global de Redução do Petróleo; ou se, em vez disso, as nações apenas se guerrearem sem dó nem piedade pelas últimas reservas de petróleo até os próprios “vencedores” ficarem totalmente exaustos e os recursos em disputa tiverem sido gastos ou destruídos no próprio conflito.
No pior dos casos, o ideal de Zerzan de regresso à caça e à recolecção talvez se realize – não por escolha moral, mas pelo cruel destino.
Se os utensílios da Classe D alimentados a petróleo barato eliminaram o trabalho pesado, a vida sem uma abundante energia extra-somática implicará mais trabalho – pelo menos para a produção de alimentos. O regresso à escravatura é uma possibilidade assustadoramente real. Estes cenários de pesadelo só podem ser evitados por um trabalho cuidadoso, difícil e cooperativo.
Olhando para o Tecno-Colapso
E, entretanto, o que podemos esperar e o que devemos fazer?
Racionalmente, penso que podemos esperar ver alguns dos piores excessos da história humana, mas talvez de forma breve e só em certos locais. Dentro de algumas décadas as estruturas governamentais e coporativas capazes de perpetrar tais horrores desmoronar-se-ão por falta de combustível. Também podemos imaginar – e participar– tentativas cooperativas localizadas para reorganizar a sociedade numa escala mais pequena.
Dadas as circunstâncias, acho que não faz sentido e é errado tentar levar o industrialismo a uma ruína prematura: a ruína chegará dentro em breve e por si só. É melhor investir o tempo e os esforços na preparação pessoal e da comunidade. Reforcem as vossas possibilidades de sobrevivência. Aprendam técnicas práticas, incluindo o fabrico e a utilização de utensílios paleolíticos. Aprendam a conhecer e a consertar (tanto quanto possível) os instrumentos existentes da Classe B e C que provavelmente ainda virão a ser úteis quando não houver gasolina nem electricidade.
Preservem todas as coisas belas, sãs e inteligentes. Isto inclui o conhecimento científico e cultural, e os exemplos das realizações humanas nas artes. Ninguém pode preservar tudo, nem mesmo uma parte substancial; escolham o que mais vos agrada. Uma grande quantidade deste conhecimento é actualmente guardado pelos media com duvidosas perspectivas de sobrevivência – discos ou fitas magnéticas, discos laser compactos, ou papel ensopado em ácidos. Se ninguém fizer esforços, o melhor do que fizemos nos últimos séculos e décadas desaparecerá juntamente com o pior.
No melhor do casos, as próximas gerações ver-se-ão num regime de baixa energia onde as lições morais da era dos combustíveis fósseis e da sua morte foram incineradas na memória cultural. Talvez elas consigam manter redes eléctricas baseadas em renováveis, e talvez também alguns transportes motorizados, de forma a terem ainda acesso a alguns utensílios com vida própria. E talvez não. Em qualquer dos casos, podemos ter esperança que, tal como os americanos nativos, que aprenderam com as extinções do Pleistoceno que a caça em excesso resulta em fome, elas venham a descobrir que o crescimento nem sempre é bom, que as metas materiais modestas são normalmente melhores para todos a longo prazo do que as exageradas, e que toda a tecnologia tem um custo escondido. Temos esperança, como os Haudinausaunee, que há muito tempo atrás chegaram à conclusão que lutar por territórios e recursos escassos apenas significava a perpetuação infindável da violência, que elas também tenham aprendido os métodos e a cultura da paz.
Nós, humanos, temos a tendência de só aprender lições realmente duras através da experiência amarga. Estas são na verdade lições duras. Se as aprendermos, talvez a experiência a princípio excitante, mas agora bem amarga de nos termos ficado dependentes dos combustíveis fósseis e depois termos de comer o peru frio, não tenha sido inteiramente em vão.
Leitura Recomendada
John Zerzan and Alice Carnes, eds., Questioning Technology: Tool, Toy or Tyrant? (New Society, 1991)
Bryan Appleyard, "Waiting for the lights to go out", The Sunday Times (October 16 2005)
MuseLetter #160, "How to Avoid Resource Wars, Terrorism, and Economic Collapse",
[1] Termo utilizado para designar os que são contra “toda” a tecnologia moderna. O termo original refere-se aos trabalhadores britânicos (1811) que se revoltaram e destruiram as maquinarias têxteis, convencidos de que estas máquinas iam favorecer o desemprego

[*] Richard Heinberg é jornalista, editor, conferencista e músico;é membro da faculdade New College of California, onde lecciona cursos sobre Energia e Sociedade e Sociedade, Cultura, Ecologia e Sociedade Sustentada. É autor de The Party's Over: Energy Resources and the Fate of Industrial Societies; e Powerdown: options and actions for a post-carbon world.
Tradução de Margarida Ferreira
Este artigo encontra-se em:
http://billtotten.blogspot.com/2005/11/tools-with-life-of-their-own.html
por Richard Heinberg [*]
1.Novembro.2005
Quase toda a gente se queixa de vez em quando que as nossas ferramentas passaram a ser Aprendizes de Feiticeiros; que acabámos por estar ao serviço das nossas máquinas em vez de ser o contrário; e que a nossa vida está cada vez mais organizada como se nós próprios fôssemos meras engrenagens dum grande mecanismo completamente fora do nosso controlo.

Não somos os primeiros a sentir isto: a crítica à tecnologia já tem passado. Os ‘luditas’ [1] da Inglaterra dos princípios do século XIX foram dos primeiros a levantar a voz – e martelos! – contra os efeitos desumanizadores da mecanização. À medida que a industrialização avançada, década após década – dos teares mecânicos até às pás a vapor, aos aviões a jacto e às escovas de dentes eléctricas – as objecções à adopção acelerada e insensata de novas tecnologias tornaram-se mais eruditas. No século passado, os livros de Lewis Mumford, Jacques Ellul, Ivan Illich, Kirkpatrick Sale, Stephanie Mills, Chellis Glendinning, Jerry Mander, John Zerzan, e Derrick Jensen, entre outros, ajudaram gerações de leitores a entender o como e o porquê de as nossas ferramentas terem acabado por nos escravizar, colonizando os nossos espíritos e as nossas rotinas diárias.

Estes autores chamaram-nos a atenção para que essas ferramentas, longe de serem moralmente neutras, são amplificadoras dos objectivos humanos; daí que cada ferramenta contenha em si mesma a inerente intenção primitiva do seu inventor. Podemos utilizar um revólver para pregar pregos, mas ele funciona melhor como uma máquina para a missão imediata de causar danos físicos; e quanto mais revólveres houver, mais provável se torna que os conflitos pessoais diários se resolvam inevitavelmente a tiro. Assim, tal como os conflitos dos objectivos humanos constituem o cerne das discussões éticas e políticas, também a tecnologia em si mesma, à medida que se desenvolve, se torna inevitavelmente no sujeito duma ampla exibição das controvérsias sociais. As batalhas sobre a tecnologia dizem respeito a nada menos do que à forma e ao futuro da sociedade.

Em princípio, estas batalhas – se não as discussões académicas em torno delas – percorrem todo o caminho desde a idade neolítica, desde o tempo em que dominámos o fogo há dezenas de milhares de anos. Mumford escreveu um parágrafo completo realçando como as modernas megatecnologias são exteriorizações duma máquina social que teve origem nos estados primitivos da Idade do Bronze:
“Os inventores das bombas nucleares, mísseis espaciais e computadores são os construtores em pirâmide da nossa época: inchados psicologicamente por um tal mito de poder absoluto, ostentando através da ciência a sua crescente omnipotência, ou mesmo omnisciência, motivados por obsessões e compulsões não menos irracionais do que as dos antigos sistemas absolutos: principalmente a noção de que o próprio sistema tem que se expandir, qualquer que seja o seu preço”. (citado em Questioning Technology, publicado por Zerzan e Carnes).
Zerzan vai mais longe, afirmando que os homens têm tendência para abstrair e manipular, o que está no centro da nossa capacidade de fabricar utensílios, e que nos isola das nossas relações inatas com o mundo natural e, por isso, ofuscam a nossa própria natureza.
É certamente útil esta tentativa de mostrar que a actual crise tecnológica tem origem em antigos padrões. Mas também é importante ter em mente o facto de que a discussão sobre os danos colaterais da mecanização intensificou-se relativamente nos últimos tempos, devido ao facto de que a escala da introdução da tecnologia nas nossas vidas e o seu preço sobre o ambiente cresceu enormemente só nos dois séculos passados.
Alguns tecno-críticos tentaram explicar esta recente explosão do poder e da variedade dos nossos utensílios relacionando-a com os progressos na filosofia (dualismo cartesiano) ou na economia (capitalismo). Estranhamente, poucos são os críticos que discutem com alguma profundidade o papel dos combustíveis fósseis na revolução industrial. Ou seja, concentram normalmente a sua atenção nos impactos dos utensílios na sociedade e na natureza, e nas condições políticas e nas ideologias que permitiram a sua adopção, mais do que no facto de que a maioria dos novos utensílios que apareceram ao longo dos dois séculos passados são dum tipo anteriormente raro – as que vão buscar a energia para o seu funcionamento não à energia muscular, mas à queima de combustíveis.
Mumford, um dos meus autores favoritos, dedicou apenas um comentário ao carvão numa das 700 páginas da sua obra-prima em dois volumes, The Myth of the Machine, e no índice de qualquer dos volumes nada aparece sobre o “petróleo”. O meu próprio livro de 1996, A New Covenant with Nature, que era dedicado na sua maior parte a uma crítica ao industrialismo, não está melhor: “carvão”, “petróleo” e “energia” estão ausentes do seu índice.

E contudo parece-me agora que, para avaliar a tecnologia e compreender os seus efeitos sobre as pessoas e a natureza, é pelo menos tão importante prestar atenção à energia que move as ferramentas como às próprias ferramentas e à matriz político-ideológica envolvente. Em resumo, nós que temos vindo a criticar a sociedade tecnológica, utilizando os métodos da análise histórica, ignorámos pelo menos metade da história que estamos a tentar tecer, quando ignorámos a evolução energética das ferramentas.
Este artigo é uma breve tentativa de compensar este descuido. Também tenta analisar porque é que o pico iminente da produção global do petróleo fará saltar a rolha do tipo de “progresso” que nos habituámos a esperar nos dois séculos passados, fornecendo uma oportunidade histórica para reformular as relações da humanidade com a tecnologia e a sua natureza.
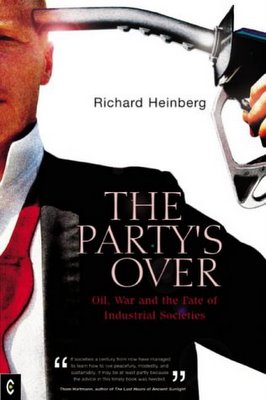
Classificação dos Utensílios
Convém, para os nossos objectivos, ter uma forma de classificação dos utensílios conforme as suas fontes de energia. As seguintes quatro categorias, realçadas no meu livro The Party's Over, correspondem grosso modo às quatro principais épocas da evolução social:
Classe A. Utensílios que exigem apenas energia humana para a sua manufactura e utilização. Como exemplo, incluem-se as pontas de lança e pontas de flechas de pedra, utensílios para moer, cestos e vestuário de peles de animais. Encontramos este tipo de utensílios nas sociedades recolectoras-caçadoras.
Classe B. Utensílios que exigem uma fonte de energia externa para o seu fabrico, mas apenas energia humana para a sua utilização. Exemplos: todos os utensílios básicos de metal, tais como facas, armaduras de metal e moedas. Estes utensílios foram a base das primeiras civilizações agrícolas com centro na Mesopotâmia, China, Egipto e Roma.
Classe C. Utensílios que exigem apenas energia humana para o seu fabrico, mas captam uma fonte de energia externa. Exemplos: o arado de madeira puxado por animais de carga, a utilização do fogo, o barco à vela, o moinho de vento e o moinho de água. A utilização do fogo foi feita pelos caçadores-recolectores, e o arado de madeira e o barco à vela desenvolveram-se nas primeiras sociedades agrícolas; o moinho de vento e o moinho de água apareceram em estádios mais avançados da evolução social.
Classe D. Utensílios que precisam de uma fonte de energia externa para o seu fabrico e também captam ou utilizam uma fonte de energia externa. Exemplos: o arado de aço, a espingarda, a máquina a vapor, o motor de combustão interna, o motor a jacto, o reactor nuclear, a turbina hidroeléctrica, o painel fotovoltaico, a turbina eólica e todos os equipamentos eléctricos. Estes instrumentos e sistemas de instrumentos são o fundamento das sociedades industriais modernas; na verdade, definem-nas.
Durante milhares de anos, os seres humanos empenharam-se numa luta constante para dominar energia extra-somática (ou seja, fontes de energia exteriores ao corpo humano). Até há pouco tempo, essa energia provinha essencialmete da utilização do trabalho desempenhado pelos músculos de animais. Nos EU, ainda em 1850, os animais domésticos – cavalos, bois, e mulas – representavam cerca de 65 por cento do trabalho físico que sustentava a economia; hoje essa percentagem é insignificante: praticamente todo o trabalho é feito por máquinas alimentadas por combustível. A escravatura foi uma estratégia para o domínio da energia muscular humana, e o fim da escravatura mais visível durante o século XIX foi mais ou menos inevitável quando os instrumentos da classe D se tornaram mais baratos do que possuir e manter escravos humanos – ou animais domésticos, com esse objectivo.
Nas civilizações primitivas, os trabalhadores agrícolas tentavam captar mais energia solar numa base anual de arar a terra e colher. É sempre necessário gastar energia para produzir energia (é necessário esforço para lançar a semente, construir um moinho de vento ou perfurar um poço de petróleo). Para as sociedades agrícolas, o lucro líquido em energia era sempre moderado e por vezes nem existia (daí as fomes recorrentes): na maior parte dos casos cerca de noventa por cento da população tinha que trabalhar na agricultura para fornecer o excedente necessário para sustentar o resto do edifício social – incluindo os guerreiros, o clero e as classes administrativas. A extracção do carvão, e principalmente do petróleo e do gás natural – substâncias que representam milhões de anos de acumulação de energia biótica antiga – proporcionou frequentemente um espectacular lucro líquido de energia, por vezes da ordem das 50 ou 100 unidades obtidas por cada unidade investida. Em consequência disso, com os combustíveis fósseis e a maquinaria moderna, bastam dois por cento de população na agricultura para sustentar o resto da sociedade, permitindo a prosperidade duma crescente classe média composta por uma quantidade louca de especialistas.
A crescente especialização também foi favorecida pelo florescimento de diversos tipos de máquinas, e essa diversidade foi por seu turno alimentada pela disponibilidade de energia barata para o seu funcionamento. A produtividade do trabalho manual aumentou sem parar, não porque as pessoas trabalhassem mais tempo ou mais arduamente, mas porque tinham acesso a um número cada vez maior de poderosos utensílios alimentados extra-somaticamente.
A disponibilidade dos utensílios da Classe D provocou excitação e assombro – inicialmente entre as poucas pessoas suficientemente abastadas para as possuir, e também entre os astutos e altamente motivados inventores disponíveis para serem contratados. Eram utensílios que, em certo sentido, tinham vida própria: consumiam um certo tipo de alimento, sob a forma de carvão ou petróleo (mesmo indirectamente, no caso da electricidade) e tinham o seu próprio metabolismo interior. Gradualmente, à medida que a produção mecanizada se mostrou capaz de produzir bens e artigos em maior quantidade do que as elites ricas eram capazes de absorver, estas traçaram uma estratégia para criar uma sociedade de consumo em que todos pudessem possuir maquinaria que poupasse trabalho. O cidadão comum foi rapidamente conquistado pelo sonho de eliminar o trabalho pesado. E, dada a escala das energias que se poupavam, a realização desse sonho parecia estar facilmente ao seu alcance.
Essa escala é difícil de compreender sem o recurso a exemplos familiares. Pensem por momentos no esforço necessário para empurrar – mesmo só alguns metros – um carro que ficou sem gasolina. Agora imaginem ter que empurrá-lo durante 30 quilómetros. Esta distância, claro, é o serviço prestado por um único galão (3,8 litros) de gasolina, e representa a energia equivalente a pelo menos um mês de trabalho humano (muito mais do que isso segundo alguns pensam). O total dos combustíveis gasolina, diesel e petróleo utilizados nos EU num só dia aproximam-se do equivalente energético do trabalho de 20 milhões de pessoas/ano. Se a construção da Grande Pirâmide exigiu o trabalho de 10 000 pessoas durante vinte anos, então a energia baseada no petróleo utilizada nos EU numa média diária poderia – em princípio, conforme a pedra disponível e a maquinaria – construir 100 Grandes Pirâmides. Evidentemente, não utilizamos o petróleo para este fim: em vez disso, utilizamo-lo na sua maior parte, para fazer andar milhões de carros metálicos pesados ao longo das estradas a fim de podermos ir e vir do trabalho, dos restaurantes e das lojas de aluguer de vídeos.

Com os computadores e os sistemas cibernéticos, conseguimos criar instrumentos não só com vida própria, mas com uma mente própria. Agora os nossos utensílios não só “respiram”, “comem” e fazem trabalho físico, mas também “pensam”. Cada vez mais nos encontramos em ambientes sintéticos, auto-reguladores (ou mesmo auto-replicadores) – centros comerciais, aeroportos, edifícios de escritórios – onde estão presentes a fauna e flora não humana multicelular apenas como ornamentos; onde o trabalho humano consiste apenas em fazer algumas tarefas que ainda não conseguimos substituir pela invenção de autómatos rentáveis. O milagre de termos eliminado o trabalho pesado é acompanhado pelo aborrecimento de sermos dirigidos e dominados pelas máquinas, e de ficarmos indefesos perante falhas mecânicas ou – horror dos horrores – perante falhas de energia.
E o que é preciso para tudo isto? São precisos 84 milhões de barris de petróleo por dia, globalmente, assim como milhões de toneladas de carvão e milhões de metros cúbicos de gás natural. A rede de fornecimento destes combustíveis cobre o globo e é impressionante. No entanto, do ponto de vista do utilizador final, esta rede é praticamente invisível e considerada natural. Accionamos o interruptor, enchemos o depósito com gasolina, ou ligamos o termostato sem pensar nos processos de extracção que estão por detrás, ou nos horrores ambientais que representam.

As próprias máquinas tornaram-se tão sofisticadas, os seus serviços tão sedutores, que se equiparam à magia. Poucas pessoas compreendem totalmente o funcionamento interno de qualquer instrumento da Classe D, e os diversos instrumentos exigem as suas próprias equipas de especialistas para o seu desenho e a sua reparação. Mas o que é mais importante, no processo de nos tornarmos dependentes deles, é que quase nos transformámos numa espécie diferente dos nossos antepassados recentes.
Questões de Infra-estrutura
Para compreender como é que nos tornámos tão diferentes, quão diferentes nos tornámos, e também como é que o acabar da energia extra-somática barata nos irá provavelmente afectar, e à sociedade em que vivemos, será útil ir buscar outra lição à antropologia cultural.
Estudos comparativos das sociedades humanas têm mostrado consistentemente que estas últimas são mais bem classificadas quanto aos meios de obtenção de alimentos dos seus membros. Assim, falamos vulgarmente de sociedades caçadoras-recolectoras, sociedades hortícolas, sociedades agrícolas, sociedades piscatórias, sociedades pastorícias e sociedades industriais. A questão é, se soubermos como é que as pessoas obtêm os seus alimentos, ficaremos certamente aptos a predizer a maior parte das suas restantes formas sociais – os costumes de tomada de decisões e de educação infantil, as práticas espirituais e por aí fora.
Evidentemente, dum ponto de vista biológico, comida é energia. Assim o que queremos dizer é que é essencial compreender as fontes de energia para compreender as sociedades humanas.
O antropólogo Marvin Harris identificou três elementos básicos presentes em toda a sociedade humana:
* infra-estrutura (que consiste nos meios de obter e produzir a energia necessária e os materiais, a partir da natureza – ou seja, os meios de produção);
* estrutura (que consiste na tomada de decisões entre os homens e na actividade de repartição dos recursos)
* super-estrutura (que consiste nas ideias, rituais, éticas e mitos que servem para explicar o universo e coordenar o comportamento humano)
As alterações em cada um destes níveis podem afectar os outros: o aparecimento duma nova religião ou duma revolução política, por exemplo, pode mudar a vida das pessoas de forma real e significativa. No entanto, o facto de que tantas formas culturais pareçam agrupar-se consistentemente em torno da forma de obter os alimentos, sugere que a mudança cultural fundamental ocorre a nível da infra-estrutura: se as pessoas mudam, por exemplo, da caça para o plantio, ou do plantio para a pastorícia, a sua política e espiritualidade também acabam por mudar e provavelmente de forma profunda.
A revolução industrial representou uma das mudanças infra-estruturais fundamentais da história; tudo o resto na sociedade humana mudou em resultado disso. Esta revolução não resultou principalmente de alterações religiosas ou políticas, mas dalgumas invenções anteriores (aço, engrenagens, e uma primitiva máquina a vapor – ou seja, instrumentos da Classe B e C e instrumentos simples da Classe D) que se juntaram em presença de uma abundante fonte de nova energia: os combustíveis fósseis – primeiro o carvão, depois o petróleo e o gás natural. As ideias (tais como o dualismo cartesiano, o capitalismo, o calvinismo e o marxismo), mais do que impulsionarem a transformação, adquiriram relevância porque desempenharam funções úteis dentro dum fluxo de acontecimentos que emanaram da necessidade da infra-estrutura.
Quais as Consequências da Utilização dos Hidrocarbonetos?
Quais foram os impactos estruturais e super-estruturais do industrialismo?
Como só é necessária uma reduzida porção da população a trabalhar no campo (agora com tractores e ceifeiras em vez de bois) para produzir alimentos-energia, uma grande parte do povo perdeu a ligação directa com o campo e com os ciclos da natureza. Enquanto que os caçadores obtêm o seu alimento-energia da caça, nós obtemos o nosso nas compras do supermercado.
O subsequente desenvolvimento, primeiro no trabalho fabril, e depois nas ocupações especializadas, levou à implantação da educação pública obrigatória universal e à ideia de “emprego” – uma noção que muita gente hoje aceita como certa, mas que parece estranha, humilhante e limitada para pessoas de culturas não industriais.
Com a expansão da classe média instruída, as simples formas monárquicas de governo deixaram rapidamente de ser defensáveis. Na parte final do século XVIII, desenvolveu-se uma forte tendência, dentro dos países industriais, para a revolução e para uma ampla e crescente expectativa de participação democrática na governação – embora evidentemente essa expectativa tenha sido rapidamente suprimida pelas novas elites mercantis. Um pouco mais tarde, a exploração económica do trabalho, típica tanto nas civilizações agrícolas anteriores como nos novos estados industriais tornou-se também o alvo da revolução; mais uma vez, o efeito da revolução foi basicamente um rearranjo de cadeirões: o trabalho diário real e a vida psíquica do povo continuaram a ser moldados pelas máquinas e, a um nível mais profundo, pelas fontes de energia que as punham em funcionamento.
Não podemos esquecer que o industrialismo veio na sequência do controlo europeu dos recursos e do trabalho da maior parte do resto do mundo durante séculos de conquista e de colonialismo. Assim a experiência e a expectativa do crescimento económico já se tinha introduzido no espírito dos membros da classe mercantil europeia antes da chegada do industrialismo. Depois do início da revolução dos combustíveis, com muitíssimo mais energia disponível per capita, a actividade económica atingiu um crescimento logarítmico aparentemente perpétuo, e surgiram teorias económicas não só para explicar esse crescimento em termos de “mercados”, mas para afirmar que, agora, por causa dos mercados, o crescimento era necessário, inevitável e infindável: o mundo sem fim, amen. Uma banca de reservas mínimas, baseada no milagre dos juros acumulados, serviu de personificação prática dessas novas expectativas. Com efeito, dentro do espírito dos gestores da sociedade e dos políticos, a fé na tecnologia e nos mercados suplantaram a fé religiosa de antigamente nas divindades visionárias agrícolas e pastorícias que presidiam sobre a civilização ocidental dos milénios anteriores.
No princípio do século XX, quando a produção mecanizada cresceu rapidamente suplantando a procura existente (entre pessoas que ainda viviam na sua maioria de forma rural e bastante auto-suficientemente) de produtos manufacturados, as elites começaram a experiência da propaganda de massas sob a forma de anúncios e relações públicas. Posteriormente, a televisão iria aumentar dramaticamente a eficácia destes esforços, que se elevaram a nada menos do que à arregimentação da imaginação humana de acordo com as exigências do sistema do capitalismo industrial.
Como as mulheres eram agora necessárias quer como consumidoras quer como operárias a fim de continuar a expansão perpétua deste sistema, apareceu como inevitável subproduto o feminismo (pela via da destruição do antigo papel doméstico e pela promoção de novas ambições e gostos consumistas).
Em resumo, tal como previmos com base na teoria do determinismo da infra-estrutura, quando os combustíveis fósseis alteraram profundamente os meios de a humanidade obter o sustento a partir da terra, tudo mudou na sociedade humana – desde a educação infantil até à política; desde os mitos culturais até aos sonhos pessoais.
Claro que muitas – embora não todas – destas mudanças foram destrutivas das pessoas e da natureza. E assim, enquanto a maioria das lutas políticas do século XX se centraram em questões de distribuição do poder e da riqueza (como foi o caso desde que os primeiros excedentes agrícolas foram postos de lado há dez mil anos), muitas dessas lutas também nasceram das tentativas de controlar os impactos cáusticos da tecnologia, os quais os críticos sociais relacionavam tanto com os próprios instrumentos como com as atitudes das pessoas para com eles. Os políticos tecnológicos concentraram-se numa gama de problemas: armas nucleares e energia nuclear, químicos poluentes, clorofluorcarbonetos destruidores do ozono, gases com efeitos de estufa, e engenharia genética dos alimentos, para dar apenas alguns exemplos familiares
Entretanto, os mais radicais dos tecno-críticos foram buscar inspiração à tendência para o relativismo cultural que convenceu os antropólogos dos meados do século XX, tais como Stanley Diamond, que manifestou profunda admiração pelos caçadores-recolectores que ainda restam no mundo. Para o filósofo anarco-primitivista John Zerzan, toda a tecnologia é prejudicial, perversa, destrutiva, e degradante, e só um regresso à nossa condição primitiva, pré-linguística, pré-técnica nos permitirá recuperar inteiramente a nossa liberdade e espontaneidade inatas.
Mas todos os tecno-críticos, do mais brando ao mais radical, tendem a aceitar que, de há décadas a esta parte, a não haver uma intervenção, a humanidade continuará uma trajectória permanente de transformação tecnológica: a única coisa que pode travar este “progresso” em curso será o despertar duma nova sensibilidade moral que leve os humanos a rejeitar a tecnologia, no seu todo ou em parte.
O Pico Petrolífero e os Limites da Tecnologia
Com o discurso do Pico Petrolífero, que começou principalmente no princípio do novo milénio, a energia passou a ser o centro das atenções enquanto factor determinante na evolução social, pelo menos tão importante como a tecnologia per se, ou as ideias, ou as lutas políticas. E com esta viragem, também apareceu o sentimento de que são os limites dos recursos que provavelmente acabarão por desencadear uma mudança cultural profunda, mais do que a persuasão moral, o esclarecimento das massas, ou qualquer nova invenção.
À medida que sobem os preços do petróleo e do gás, assinalando o início do período do pico, continuamos a assistir ao anúncio de novas invenções sob a forma do último iPod, da próxima geração de bombas nucleares, de instrumentos aperfeiçoados de vigilância, e por aí fora. No entanto, também há indícios de que essa corrente de novas invenções, tal como a corrente global do petróleo, está a começar a secar.
O físico Jonathan Huebner do Centro de Defesa Aeronaval do Pentágono em China Lake, na Califórnia, tem vindo a estudar há vários anos a marcha da mudança e invenção tecnológicas, como vem catalogado na publicação The History of Science and Technology. Depois de aplicar umas matemáticas elaboradas, chegou à conclusão que o ritmo de invenções de instrumentos significativamente novos e diferentes atingiu o seu pico em 1873 e tem vindo a diminuir gradualmente desde então. Huebner calcula o actual ritmo de inovação em sete inovações tecnologicamente importantes por cada mil milhões de pessoas por ano – o que é sensivelmente o mesmo ritmo que existia na Europa em 1600. Se esta tendência continuar, em 2024 o ritmo de inovações estará reduzido ao da Idade das Trevas.
Supondo que Huebner tem razão, a adopção dos combustíveis fósseis no século XIX teria provocado uma curva de pico precoce das invenções, que se encontram actualmente na curva descendente. Como os combustíveis fósseis vão igualmente atingir o pico e entrar em queda, provavelmente não voltaremos a ver outra explosão de tipo semelhante ou de semelhante grau de inovação; pelo contrário, assistiremos a uma adaptação a um ambiente cultural de menor quantidade de energia. E essa adaptação pode ocorrer por intermédio de versões de padrões culturais mais antigos que emanaram das respostas de gerações anteriores a níveis semelhantes de energia disponível.
O Pico Petrolífero será uma fronteira cultural fundamental, pelo menos tão importante como a revolução industrial ou o desenvolvimento da agricultura. No entanto, poucos comentadores predominantes vêem as coisas deste modo. Discutem a probabilidade dos picos dos preços da energia e tentam quantificar os prejuízos económicos que resultarão desse facto. A solução é sempre a tecnologia: a solar ou a eólica e talvez um pouco de hidrogénio para os idealistas pintados de verde; a nuclear, as areias betuminosas, os hidratos de metano, e os carvões liquefeitos para os cabeças duras, economistas e engenheiros pró-crescimento; os geradores magnéticos Tesla sem consumo de energia para os ingénuos residentes marginais.
Mas a tecnologia não pode solucionar o dilema de base que enfrentamos em resultado da nossa aplicação de combustíveis fósseis a todos os problemas ou desejos humanos: a nossa população está a aumentar, estamos a destruir o habitat (e a pôr em perigo a estabilidade climática global), e estamos a delapidar recursos duma forma e a um ritmo que não podem ser minimizados por nenhuma nova ferramenta ou fonte de energia. A única forma possível que não acabe na extinção da humanidade e de milhões de outras espécies é o abandono de todo o projecto humano – tanto em termos de números humanos como de ritmos de consumo per-capita.
E é exactamente isso o que o Pico Petrolífero significa.
Quão dramático será o recuo de que estamos a falar? Ninguém sabe. Depende em grande medida da forma como gerirmos o inevitável colapso dos sistemas financeiros e de governação, e se os países de todo o mundo podem ser persuadidos a adoptar um Procolo global de Redução do Petróleo; ou se, em vez disso, as nações apenas se guerrearem sem dó nem piedade pelas últimas reservas de petróleo até os próprios “vencedores” ficarem totalmente exaustos e os recursos em disputa tiverem sido gastos ou destruídos no próprio conflito.
No pior dos casos, o ideal de Zerzan de regresso à caça e à recolecção talvez se realize – não por escolha moral, mas pelo cruel destino.
Se os utensílios da Classe D alimentados a petróleo barato eliminaram o trabalho pesado, a vida sem uma abundante energia extra-somática implicará mais trabalho – pelo menos para a produção de alimentos. O regresso à escravatura é uma possibilidade assustadoramente real. Estes cenários de pesadelo só podem ser evitados por um trabalho cuidadoso, difícil e cooperativo.
Olhando para o Tecno-Colapso
E, entretanto, o que podemos esperar e o que devemos fazer?
Racionalmente, penso que podemos esperar ver alguns dos piores excessos da história humana, mas talvez de forma breve e só em certos locais. Dentro de algumas décadas as estruturas governamentais e coporativas capazes de perpetrar tais horrores desmoronar-se-ão por falta de combustível. Também podemos imaginar – e participar– tentativas cooperativas localizadas para reorganizar a sociedade numa escala mais pequena.
Dadas as circunstâncias, acho que não faz sentido e é errado tentar levar o industrialismo a uma ruína prematura: a ruína chegará dentro em breve e por si só. É melhor investir o tempo e os esforços na preparação pessoal e da comunidade. Reforcem as vossas possibilidades de sobrevivência. Aprendam técnicas práticas, incluindo o fabrico e a utilização de utensílios paleolíticos. Aprendam a conhecer e a consertar (tanto quanto possível) os instrumentos existentes da Classe B e C que provavelmente ainda virão a ser úteis quando não houver gasolina nem electricidade.
Preservem todas as coisas belas, sãs e inteligentes. Isto inclui o conhecimento científico e cultural, e os exemplos das realizações humanas nas artes. Ninguém pode preservar tudo, nem mesmo uma parte substancial; escolham o que mais vos agrada. Uma grande quantidade deste conhecimento é actualmente guardado pelos media com duvidosas perspectivas de sobrevivência – discos ou fitas magnéticas, discos laser compactos, ou papel ensopado em ácidos. Se ninguém fizer esforços, o melhor do que fizemos nos últimos séculos e décadas desaparecerá juntamente com o pior.
No melhor do casos, as próximas gerações ver-se-ão num regime de baixa energia onde as lições morais da era dos combustíveis fósseis e da sua morte foram incineradas na memória cultural. Talvez elas consigam manter redes eléctricas baseadas em renováveis, e talvez também alguns transportes motorizados, de forma a terem ainda acesso a alguns utensílios com vida própria. E talvez não. Em qualquer dos casos, podemos ter esperança que, tal como os americanos nativos, que aprenderam com as extinções do Pleistoceno que a caça em excesso resulta em fome, elas venham a descobrir que o crescimento nem sempre é bom, que as metas materiais modestas são normalmente melhores para todos a longo prazo do que as exageradas, e que toda a tecnologia tem um custo escondido. Temos esperança, como os Haudinausaunee, que há muito tempo atrás chegaram à conclusão que lutar por territórios e recursos escassos apenas significava a perpetuação infindável da violência, que elas também tenham aprendido os métodos e a cultura da paz.
Nós, humanos, temos a tendência de só aprender lições realmente duras através da experiência amarga. Estas são na verdade lições duras. Se as aprendermos, talvez a experiência a princípio excitante, mas agora bem amarga de nos termos ficado dependentes dos combustíveis fósseis e depois termos de comer o peru frio, não tenha sido inteiramente em vão.
Leitura Recomendada
John Zerzan and Alice Carnes, eds., Questioning Technology: Tool, Toy or Tyrant? (New Society, 1991)
Bryan Appleyard, "Waiting for the lights to go out", The Sunday Times (October 16 2005)
MuseLetter #160, "How to Avoid Resource Wars, Terrorism, and Economic Collapse",
[1] Termo utilizado para designar os que são contra “toda” a tecnologia moderna. O termo original refere-se aos trabalhadores britânicos (1811) que se revoltaram e destruiram as maquinarias têxteis, convencidos de que estas máquinas iam favorecer o desemprego

[*] Richard Heinberg é jornalista, editor, conferencista e músico;é membro da faculdade New College of California, onde lecciona cursos sobre Energia e Sociedade e Sociedade, Cultura, Ecologia e Sociedade Sustentada. É autor de The Party's Over: Energy Resources and the Fate of Industrial Societies; e Powerdown: options and actions for a post-carbon world.
Tradução de Margarida Ferreira
Este artigo encontra-se em:
http://billtotten.blogspot.com/2005/11/tools-with-life-of-their-own.html








0 Comments:
Post a Comment
<< Home